Agora que robôs imitam cada vez melhor a escrita humana, vamos supor que, num dos futuros possíveis desse tempo de incertezas e oportunidades criado pela inteligência artificial, o texto artesanal produzido por criaturas vivas ganhe um valor novo –o de lugar de resistência do velho humanismo.
Otimismo excessivo? Acho que não. A IA generativa torna provável que a quase totalidade da espécie já não escreva mais nada em breve, terceirizando para a máquina todas as tarefas textuais do dia a dia. Escrever é trabalhoso, afinal. Quem fará isso se não for obrigado?
Quem quiser, é claro. E quiser muito. Para esses malucos, vão se valorizar também traços do ato de escrever que até então a maioria de nós via como contratempos, pedágios a serem pagos (que remédio?) por quem quisesse chegar a um resultado textual decente.
Na coluna passada tratei de um desses aborrecimentos –a insatisfação perpétua que parece estar no miolo do ofício de escrever criativamente, a julgar por depoimentos de escritores e escritoras de épocas e estilos variados.
A essa sensação de insuficiência e incompletude podemos acrescentar a lentidão inerente ao processo de enfileirar palavras e a propensão ao arrependimento, à briga consigo mesmo. Robôs não sofrem de nada disso: são completos, rapidíssimos, seguros, íntegros. E aí mora a sua fraqueza.
A escritora inglesa Zadie Smith deu certa vez o seguinte conselho a escritores iniciantes: “Tente ler seu próprio trabalho como um estranho o leria, ou melhor ainda, como um inimigo o leria”. Ótima dica, mas qual seria o sentido de exercitar de tal forma a crueldade consigo mesmo?
O sentido é apenas o de crescer, escrever cada vez melhor. A erosão que a história da literatura provocou e provoca em seus relevos, prédios e monumentos deve ser incorporada pelo olhar crítico do autor que lê seu próprio trabalho.
É por isso que existe o fenômeno desagradavelmente habitual da mudança drástica de opinião entre a noite eufórica em que se escreveu algo (“sou um gênio!”) e a manhã desencantada da sua leitura (“sou uma besta!”).
A questão é que, em poucas horas, passaram-se –parece– décadas, um tempo ao longo do qual os leitores se acostumaram com (e depois se desinteressaram de) piadinhas poéticas modernistas, por exemplo. Ou jogos metalinguísticos pós-modernos. Ou fluxos de consciência sem pontuação. Ou…
O escritor americano Ernest Hemingway –hoje meio cancelado, mas que já ocupou o papado de uma escola da secura estilística– afirmou que “o equipamento mais importante para um escritor é um detector de merda (“bullshit” no original, que também cabe traduzir por papo furado ou picaretagem) embutido e à prova de choque”.
Acredito que o autor de “Por Quem os Sinos Dobram” se referisse àquilo que leva nosso melhor juízo a condenar em retrospecto como convencional, cafona, vazio ou tolo algo que pouco tempo atrás nos pareceu aceitável ou mesmo brilhante.
E quem continuará a se preocupar com isso? Quem continuar a se preocupar com isso, claro. Nem uma pessoa a mais.
LINK PRESENTE: Gostou deste texto? Assinante pode liberar sete acessos gratuitos de qualquer link por dia. Basta clicar no F azul abaixo.















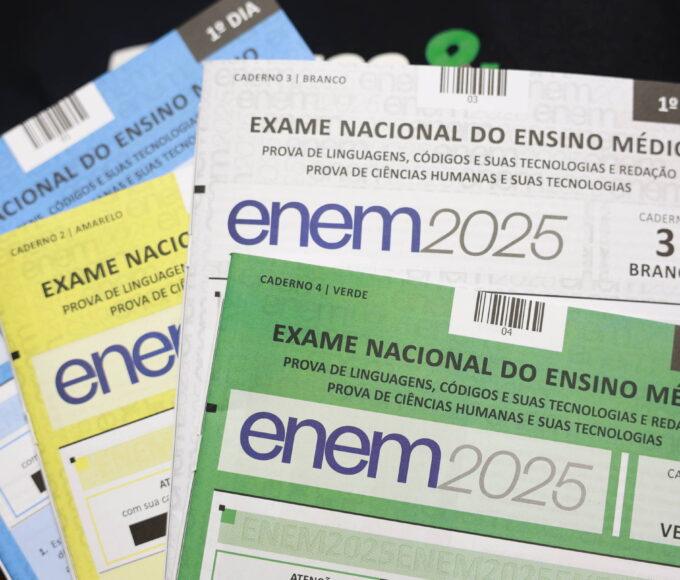

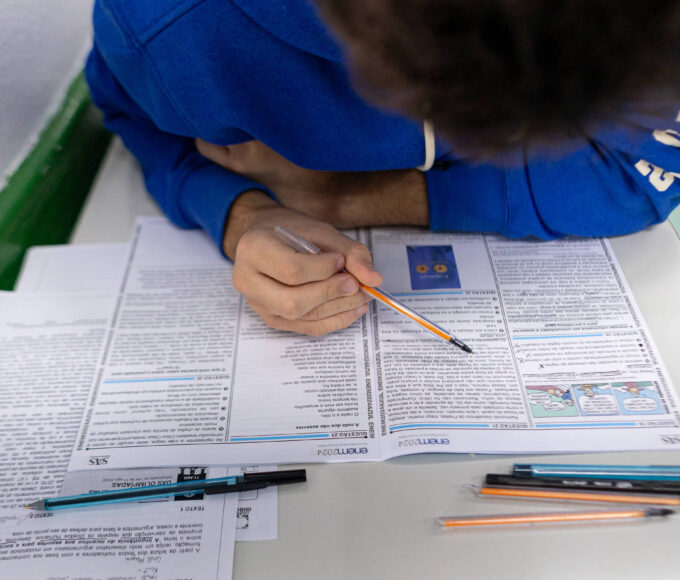

Deixe um comentário